
O Vínculo Transferencial
Nota: Esse texto é um fragmento da tese de doutorado da autora, intitulada “O CAPSij como lugar de cuidado para crianças e adolescentes em uso de substâncias psicoativas” (PPGP- UFES, 2018).
Para uma melhor compreensão do conceito de transferência é preciso debruçar-se antes sobre a ideia de projeção, visto que para Jung a transferência é uma forma de projeção, e também pelo fato da projeção ser um fundamento bastante significativo quando se pensam as relações terapêuticas nessa perspectiva teórica. A projeção pode ser entendida como um elemento natural e peculiar da psique (Jung, 2012), ou seja, é natural ao ser humano relacionar-se por intermédio da projeção.
A projeção é um processo inconsciente, uma atividade involuntária da psique de quem projeta, que pode ser indivíduo, grupo, como se tal conteúdo pertencesse a esse receptor somente (Jung, 2013c). Como isso se estabelece não pela consciência, a psique consciente é incapaz de construi-la, evitá-la ou mesmo reconhecê-la inicialmente.
As projeções são importantes pois os fenômenos ou conteúdos inconscientes não podem ser percebidos pela consciência diretamente, mas podem ser acessados por intermédio das projeções, além dos sonhos, sintomas, entre outros (Jung, 2012). Dessa forma, se torna possível a integração desses conteúdos à consciência, necessária ao processo de ampliação da mesma e, consequentemente, ao processo de individuação. Nessa direção, não sendo produzidas conscientemente e não podendo ser evitadas pela consciência, ou seja, sendo naturais, as projeções tornam-se parte da maneira como o ser humano se relaciona. Nesse sentido, Jung retira da projeção o caráter doentio ou a função de mecanismo de defesa do ego e passa a tratá-la como uma forma natural de relacionamento e ampliação da consciência. Segundo Jung (2012), a relação com o objeto é imprescindível ao processo de individuação, seja porque o ser humano necessita de interação social, seja porque o objeto é necessário para a projeção. Isso porque o conhecimento acerca de si mesmo se dá também através das projeções, pois elas são importantes veículos para que conteúdos inconscientes possam se manifestar.
A projeção trata-se portanto, de um processo inconsciente e autônomo que se encerra quando há a conscientização do conteúdo projetado, e este então passa a ser percebido como pertencente ao sujeito que projetou (Gambinni, 1998; Von Franz, 1997). Há portanto, o recolhimento e a integração da projeção à consciência.
Outra característica da projeção é que o conteúdo projetado não é escolhido acidentalmente, mas o sujeito ou objeto que recebe a projeção possui características da propriedade projetada. Ou seja, um conteúdo inconsciente só é projetado por encontrar uma correspondência no terapeuta, seja ela por uma familiaridade física ou da atitude do terapeuta que se disponibiliza a isso.
Esclarecendo-se essa questão, tem-se que a transferência e a contratransferência são uma forma de projeção (Jung, 2013b), sendo fenômenos naturais em qualquer tipo de relacionamento. Apesar de o termo ser frequentemente articulado à relação paciente/analista, ela pode ocorrer, ainda que não seja tão frequente, fora do contexto de análise, tais como em relação a um professor, um profissional de saúde ou mesmo um serviço de saúde; estabelecendo-se, assim, um vínculo transferencial.
Por vínculo transferencial podemos entender um caminho de relação que aproxima o analista/cuidador e o paciente/usuário, de forma bilateral, ou seja, tanto do paciente para o analista (transferência), como do analista para o paciente (contratransferência) (Penna, 2014). Isso se torna possível pela energia mobilizada na relação e especialmente em virtude da “ativação de conteúdos psíquicos importantes” (p. 156).
Um dos elementos objetivos da transferência trata-se do esforço inconsciente do paciente em realizar um relacionamento. Todavia, ela inicialmente pode se estabelecer repetindo uma situação familiar. Contudo, o terapeuta, ou quem exerce a função terapêutica, não pertencendo a esse contexto familiar, pode favorecer um caminho para afastar-se dessa dinâmica. Nessa direção, ao passo que a “medida que as projeções infantis são retiradas, a necessidade de relacionamentos saudáveis torna-se mais evidente. O paciente voltar-se-á para o analista como um objeto de puramente relacionamento humano, em que a cada indivíduo é garantido lugar” (Jacoby, 2008, p. 15).
Desta forma, Jung (2012) afirma que o Ego precisa de outro indivíduo sobre o qual os conteúdos inconscientes possam ser projetados, de maneira que a junção consciente e inconsciente possa ocorrer. “O ser humano não relacionado carece de totalidade, pois ele só pode obter a totalidade através da alma, e a alma não pode existir sem o seu outro lado, que é sempre encontrado no ‘outro’” (2012, p. 130).
A transferência propicia o processo de integração do inconsciente e da consciência, que é um fenômeno também expressado como função transcendente. Por função transcendente, Jung compreendia “[…] a tentativa inconsciente de o paciente atingir uma nova atitude através da união do consciente e do inconsciente” (Jung, 2012). A transferência seria um mediador para a função transcendente à medida que conteúdos inconscientes, compensados por uma atitude unilateral da consciência, são projetados na figura do agente terapêutico, tornando-os possíveis de serem aproximados da consciência (Jung, 2013).
Nessa direção, pode-se dizer que a função transcendente se refere ao processo psíquico de formação de símbolos, ou seja, a capacidade da psique de realizar a síntese criativa entre conteúdos consciente-inconsciente de maneira a construir uma nova atitude da consciência. Dessa maneira, entende-se que apesar de se referirem ao mesmo fenômeno psíquico, símbolo e função transcendente podem ser compreendidos em níveis hermenêuticos diferentes: enquanto o símbolo associa-se a um dinamismo energético fundamental à manutenção do psiquismo, a função transcendente relaciona-se a um processo de desenvolvimento psíquico do sujeito, que requer uma atitude da consciência. Trata-se, pois, de uma função complexa a partir da qual “se cria uma passagem de um lado para o outro” (Jacobi, 1990, p. 90-91) e é possível reparar prováveis unilateralidades[1].
Assim, a função transcendente dá uma resposta à atitude consciente, que compreende na supressão da separação corrente entre a consciência e o inconsciente (Jung, 2013). Entende-se como uma tentativa de reconciliação entre os produtos opostos que se encontram distanciados. A partir desse processo, um terceiro elemento é construído – a função transcendente. Nessa etapa, a direção do processo passa a ser realizada pelo Ego (Jung, 2013).
É preciso salientar que não se trata apenas de “lidar” com conteúdos, mas também com aspectos dinâmicos tanto da consciência como do inconsciente, gerando assim um processo de transformação do sujeito, necessário ao processo de individuação.
Por isto, na prática é o médico adequadamente treinado que faz de função transcendente para o paciente, isto é, ajuda o paciente a unir a consciência e o inconsciente e, assim, chegar a uma nova atitude. Nesta função do médico está uma das muitas funções da transferência: por meio dela o paciente se agarra à pessoa que parece lhe prometer uma renovação da atitude; com a transferência ele procura esta mudança que lhe é vital, embora não tome consciência disso (Jung, 2013, p. 6).
Enquanto um processo com caráter de totalidade, a consciência é ampliada continuamente à medida que os conteúdos inconscientes são integrados (Jung, 2013). Nesse processo, a posição essencial para quem se propõe enquanto agente terapêutico ultrapassa a ação dirigida à dificuldade momentânea do paciente e se coloca como um facilitador para que o sujeito seja capaz de lidar de maneira mais saudável com as dificuldades futuras. A função transcendente tem como base, portanto, um método construtivo de tratamento (Jung, 2013) que presume que o paciente é potencialmente capaz de ter percepções acerca de suas dificuldades e possiblidades de superá-las, ou seja, que pode desenvolver uma forma de conhecimento de cuidado de si mesmo, ainda que inicialmente necessite de auxílio. Assim, “durante o tratamento, a função transcendente se parece, por assim dizer, com um produto artificial, por ser sustentada substancialmente pelo analista. Mas se o paciente tem de se sustentar sobre seus próprios pés, ele não pode depender permanentemente de ajuda externa” (Jung, 2013, p. 9).
A função transcendente é, portanto, uma possibilidade de construção de algo novo, e esse novo conhecimento, por apresentar ao mesmo tempo um aspecto conhecido e desconhecido, apresenta-se na verdade como símbolo. Sendo esse novo conhecimento necessário ao processo de individuação, pode-se dizer que o sujeito projeta no agente terapêutico conteúdos imprescindíveis ao desenvolvimento da personalidade e não somente as recordações infantis (Jacoby, 2008); daí o caráter prospectivo da transferência. Assim, é transferido ao analista ou ao agente terapêutico os fenômenos inconscientes que ele precisa integrar.
A relação transferencial dá suporte para a relação do sujeito com as próprias questões inconscientes (Stein, 1999); assim, essa relação é reatualizada e simbolizada no processo terapêutico. É importante salientar que a relação constituída no processo terapêutico se trata de uma relação dialética (Jung, 2013b), ou seja, há uma produção de novos conteúdos a partir da relação dos dois sistemas psíquicos.
O percurso do processo terapêutico tem ampla relação com o manejo da transferência e da contratransferência (Steinberg, 1990). Nesse sentido, as relações de cuidado num serviço de saúde podem ser compreendidas e construídas através do manejo transferencial, a partir dos quais podem ser percebidos os dinamismos arquetípicos e as relações de cuidado.
Assim, nas relações de vínculo transferencial nos processos terapêuticos pode-se repetir as etapas de desenvolvimento que não foram bem sucedidas nos estágios iniciais da vida dos sujeitos, apresentando-se assim como uma possibilidade ímpar para retomar o processo na etapa onde fora cristalizado, sendo possível ao sujeito desprender-se dos vínculos negativos com imagos parentais. Dessa forma, os dinamismos arquetípicos podem ser humanizados a partir da relação com o agente terapêutico à medida que este se permite esse lugar e, consequentemente, abre-se a oportunidade para que o sujeito retome seu desenvolvimento.
Para compreender esse processo, faz-se necessário retomar o modelo junguiano de transferência e contratransferência. Utilizaremos a ilustração a seguir (Jacoby, 2008), para melhor compreensão.

Figura 4: Relação Transferencial
O paciente (P) dirige-se a pessoa que exerce a função terapêutica (analista – A) pois apresenta algumas dificuldades com as quais precisa aprender a lidar ou que pretende “curar”. Ambos, paciente e analista, estabelecem uma relação a nível consciente objetivando cuidar das dificuldades do paciente (linha a). Dessa forma, é realizada uma parceria entre os Egos do paciente e do analista, mas é preciso pontuar que ambos possuem aspectos inconscientes.
Usualmente, o paciente se comporta ou reage ao analista como ele faz com pessoas que fazem parte de suas relações mais próximas. Isso implica em dizer que o paciente apresenta emoções em relação ao analista que na realidade não pertencem a este, e sim às situações vividas pelo paciente com as pessoas próximas, normalmente relacionadas a conteúdos em que ainda não foi capaz de assimilar. Ou seja, o paciente transfere para o analista conteúdos que são seus, ainda desconhecidos, ou seja, inconscientes. Assim, o analista tem a chance de ter acesso ao inconsciente do paciente por meio dessa transferência.
Um dos objetivos do analista seria relacionar-se tanto com Ego do paciente como com o inconsciente deste, auxiliando assim que o inconsciente se manifeste e que o paciente tenha a oportunidade de lidar com o mesmo. O analista não conseguiria explanar os aspectos da vida do paciente de forma eficiente, sem ter contado com a totalidade do contexto de P, consciente e inconsciente (Jacoby, 2008, p. 28).
A relação entre os inconscientes do paciente e do analista encontram-se inicialmente desconhecida para ambos. Contudo, é importante que o analista tenha habilidade de perceber a existência dessa área e quaisquer fenômenos que possam surgir dali. Assim, o analista pode perceber, inicialmente inconsciente, conteúdos do paciente que ainda não puderam ser acessados conscientemente. Dessa forma, o que está impedido de ser acessado pelo inconsciente do paciente pode ser projetado no analista. O analista treinado pode ser capaz de perceber dentre as manifestações suscitadas no encontro analítico quais são suas e quais são do paciente.
Jung pontua que o terapeuta, em determinado ponto, compartilha o sofrimento do paciente (Jung, 2013b), embora seu próprio percurso não seja conduzido pelas mesmas questões inconscientes, ou seja, isso não significa que o terapeuta deva se identificar com esses conteúdos, mas ser tocado por eles. Tais situações oferecem ao terapeuta uma oportunidade de lidar com as questões inconscientes do paciente, desde que ele consiga elaborar o que foi ativado em si mesmo e trabalhar isso com o paciente de maneira que ele possa integrar tais conteúdos (Steinberg, 1995). As reações do terapeuta só serão significativas no encontro analítico se forem compreendidas a partir da psique do paciente. Esse tipo de transferência está, portanto, a favor do processo de individuação do paciente. Se, por outro lado, o analista não possui uma relação saudável com seu inconsciente, ele pode também projetar algum conteúdo inconsciente no paciente, tendo assim uma transferência que não está a favor do processo de individuação do paciente.
Retomemos a ideia de que, enquanto um movimento natural da transferência para união dos opostos consciente e inconsciente, podemos compreender que as projeções entre terapeuta e paciente são arquetípicas. Jacoby (2008, p. 91) pontua que a “transferência sempre tem suas raízes arquetípicas, sempre tem ligação com as necessidades instintivas e suas fantasias correlatas”.
Nessa direção, como assinala Stein (1999), o manejo da transferência e da contratransferência compreende-se enquanto uma ferramenta para ampliação da consciência no que tange as possibilidades de vivenciar as manifestações arquetípicas e como uma maneira de distanciar-se da cristalização arquetípica, direcionando-se para relações mais saudáveis. Num primeiro momento, agente terapêutico e paciente são colocados nos papéis arquetípicos (curado-ferido; pai/mãe-filho) para que posteriormente o sujeito desenvolva a capacidade de internalizar tais papéis à medida que vai retirando as projeções e reconhecendo tais características e dinamismo como pertencentes a ele mesmo, e não ao outro.
No trabalho analítico, o inconsciente do analista é penetrado pela dor do paciente e o terapeuta torna-se psiquicamente contaminado pelas projeções a que está exposto. Assim, quem cura é ferido outra vez por absorver a doença do outro. Isso ocorre, especialmente, quando os conflitos inconscientes do paciente estão em áreas semelhantes àquelas em que o terapeuta tem cicatrizes (Steimberg, 1995, p. 32).
A disponibilidade de ser afetado e o reconhecimento das próprias feridas são necessários ao processo analítico, pois somente aquele que pode ter construído um conhecimento no sentido de buscar curar as próprias feridas pode auxiliar o outro a lidar com suas próprias. É preciso assinalar que o agente terapêutico não tem a capacidade de “curar” psiquicamente o outro, mas de ativar no paciente uma potencialidade para a própria cura que se encontra inconsciente. (Steinberg, 1995). “O analista serve como um modelo de pessoa curada. Isso constela o arquétipo do curador ferido no inconsciente do paciente, e é o que na verdade produz a cura e não o analista” (Steinberg, 1995, p. 32).
Se por outro lado o analista se identificar com o arquétipo de curador, o conhecimento para auxiliar no processo de cura e transformação do sujeito poderá ser usado em demasia e prematuramente (Jacoby, 2008, p. 31), não abrindo uma brecha para que a potencialidade de cura do sujeito se manifeste. Isso pode gerar uma relação de dependência do agente terapêutico; visto que o paciente ainda não se encontra capaz de lidar com as próprias feridas, esse sempre precisará de outro para mediar a situação.
- Relação Eu-Isso e Eu-Você
Mario Jacoby (2008) discute as relações transferenciais a partir da proposta do filosofo Martin Buber, que compreende as atitudes tomadas pelo ser humano em relação ao mundo as partir das combinações “Eu-Isso” e “Eu-Você”. Uma atitude “Eu-Isso” implicaria em um mundo onde a pessoas encararia seus companheiros enquanto objeto. “As pessoas podem ser objetos das minhas reflexões e das minhas críticas, mas também posso transformá-las em objetos das minhas necessidades e dos meus temores, o que significa que as outras pessoas são usadas para as finalidades conscientes e, muitas vezes, inconscientes”. (Jacoby, 2008, p. 68). Dessa forma, esse tipo de atitude nunca pode compreender um relacionamento com o outro em sua totalidade. No aspecto das relações transferenciais no processo terapêutico/cuidado implicaria em entender que a relação “Eu-isso” expressa uma relação contratransferencial, podendo haver assim uma negação do sujeito em si, onde o terapeuta ou agente de cuidado se relacionará com seus próprios elementos não elaborados. Isso prejudica não só a relação terapêutica, mas o desenvolvimento do sujeito atendido.
Uma atitude “Eu-Você”, por outro lado, implica em uma relação com a alteridade da outra pessoa. Isso “Significaria que Eu em minha totalidade estaria me relacionando com Você na totalidade dele ou dela […] não fazendo dela um objeto para minhas próprias finalidades” (Jacoby, 2008, p. 69). Para conseguir relacionar-se com o “Você” é necessário que o “Eu” tenha conhecimento de suas fantasias, padrões e necessidades, pois, do contrário, essas podem ser transferidas para outra pessoa, transformando-a em um objeto. Isso requer um processo de diferenciação entre o “Eu” e o “Você”.
Tais atitudes assemelham-se ao que na psicologia analítica entende-se por Eros e Logos. Eros implica em uma relação que envolve afeto com outras pessoas, com o mundo e consigo mesmo. O Logos implica na capacidade de promover uma separação do mundo a fim de transformá-lo num objeto a ser reconhecido, e assim refletir sobre ele. Segundo Jacoby (2008), os relacionamentos humanos necessitam de ambos os princípios, o que relaciona e o que conhece. O conhecer, fala da viabilidade de “discriminar entre o campo comum e a diferença de Eu e Você” (p. 70). Isso se faz necessário pois sem essa separação há uma identificação ou fusão com o mundo, e não uma relação com um “Eu” e um “Você” separado. “A Atitude Eu-Isso está, nesse caso, incluída na Eu-Você. A subjetividade do meu parceiro, do modo como me afeta e como se coloca originariamente separado de mim, também deve ser objeto da minha percepção consciente” (p. 72).
O terapeuta, em certos momentos, transforma os sujeitos acompanhados em objeto para sua compreensão e pesquisa, o que implicaria em uma atitude “Eu-Isso” de forma consciente, ou seja, não como uma contratransferência. Entretanto, se faz necessário ampliar essa relação terapêutica de forma a incluir a atitude “Eu-Você”, a fim de compreender e relacionar-se com o paciente em sua alteridade, ou seja, compreendendo-o como um Outro/sujeito, e não como um objeto.
A relação Eu-Você do analista com seu analisando consiste em estar com ‘um pé do lado de dentro e outro do lado de fora’, como se diz vulgarmente. “Um pé dentre” significa empatia, sentir-se dentro da experiência interior do paciente. “um pé fora” significa a possibilidade de olhar para ele do lado de fora, controlando a própria empatia, relacionando-a com o contexto global da psicologia e da fase de desenvolvimento do paciente. A empatia sozinha, apesar de sua importância, pode ser enganadora, pois as experiências emocionais do analista podem facilmente ser confundidas com as do paciente (Jacoby, 2008, p. 102).
É preciso compreender que o ser humano é motivado por elementos tanto conscientes como inconscientes. A transferência/contratransferência origina-se na necessidade inconsciente de colocar o outro em um papel determinado. Reconhecer esse dinamismo é essencial para compreender as posições subjetivas que emergem nas relações, especialmente no contexto do cuidado, e como esses papéis são atribuídos e recebidos ao longo do vínculo estabelecido.
Referencias
Jacobi, J. (1990). Complexo, arquétipo, símbolo na psicologia de C. G. Jung. São Paulo: Cultrix.
Jacoby, M. (2008). O encontro Analítico: Transferência e Relacionamento Humano. São Paulo: Cultrix:
Jung, C. G. (2012). Ab reação, análise de sonhos e transferência. (9ª ed.). Petrópolis: Vozes.
Jung, C. G. (2013). A Natureza da Psique. (10ª ed.). Petrópolis: Vozes.
Jung, C. G. (2013b). A prática da Psicoterapia. (16ª ed.). Petrópolis: Vozes.
Jung, C. G. (2013c). A Vida Simbólica. (7ª ed.). Petrópolis: Vozes.
Penna, E. M. D. (2014). Processamento Simbólico-arquetípico: pesquisa em psicologia analítica. São Paulo: Educ.
Steinberg, W. (1995). Aspectos Clínicos da terapia Junguiana. (9ª ed.). Cultrix.
Von Franz, M-L. (1997). C. G. Jung: Seu mito em nossa época. (10ª ed.). São Paulo: Cultrix.
[1] A questão da unilateralidade diz respeito a um aspecto psíquico que ocorre inevitavelmente. Dessa forma, ela pode ser concebida como uma atitude rígida onde o indivíduo não consegue integrar os opostos, ou a dimensão simbólica da realidade, de modo a não conseguir elaborar ou reparar as falhas do processo de desenvolvimento.
Suzana Martelo de Carvalho Ohlsen
Leitura importante pra quem atua na área. Obrigada pelo conteúdo tão rico.
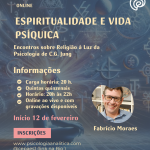




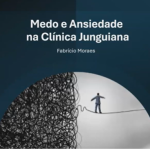







1 comentário